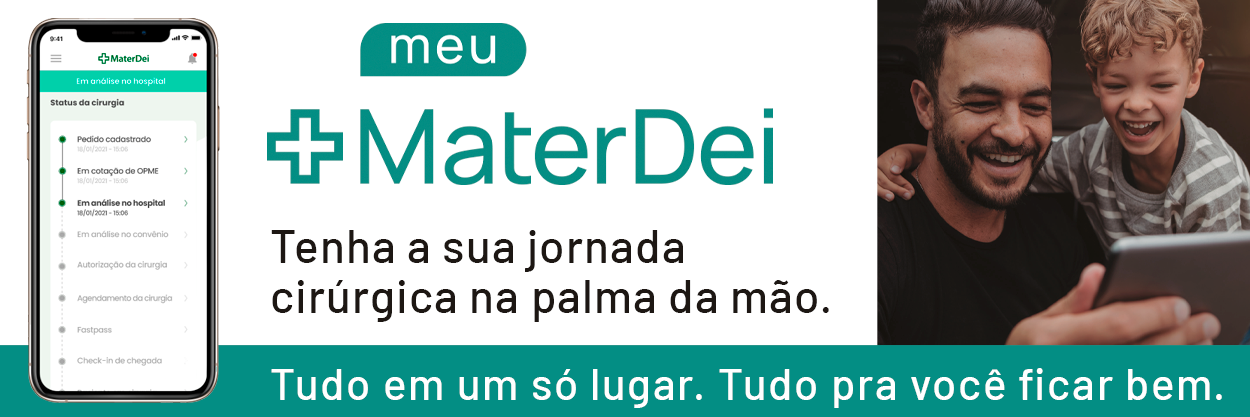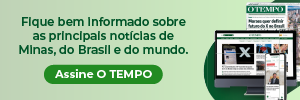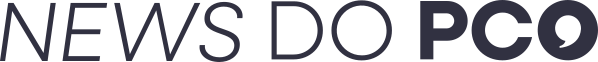O Brasil não cobra obediência do Supremo Tribunal Federal — isso a Corte ainda impõe. Cobra algo mais raro: autoridade moral. Transparência, autocontenção e responsabilidade viraram palavras decorativas. Na prática, ministros circulam em eventos pagos por interessados em processos, dividem mesa com investigados e naturalizam relações que confundem Justiça com lobby. O tribunal segue forte no papel, mas enfraqueceu no respeito. Desde o Mensalão, o espetáculo substituiu a discrição; agora, a suspeita avança: poderes excepcionais usados sem pudor institucional. Faltou comando, sobrou vaidade. Quando ministros viram protagonistas, a instituição paga a conta. A tentativa do presidente do STF, ministro Edson Fachin (foto: Gustavo Moreno/STF), em impor um código de ética não foi abraçada — sinal de que a Corte perdeu o prumo interno. Estado não é autobiografia. E biografia não pode mandar no Estado.
A última linha de defesa do Supremo
Sem aplausos internos, Edson Fachin decidiu andar. Anunciou Cármen Lúcia para redigir um código de ética dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não para tolher decisões, mas para blindar a instituição. Parte da Corte reage — justamente quem circula em convescotes – eventos onde interesses em julgamento se misturam a discursos jurídicos. É aí que mora o erro: o código não mira o juiz; protege o tribunal. Trata-se de resposta a uma cobrança pública e de um esforço de preservação institucional. A crise nasceu quando ministros se confundiram com a Corte e passaram a usá-la como escudo pessoal. Fachin foi direto na abertura do ano judicial: escolhas importam — o que se decide, o que se prioriza, como se comunica. O tempo pede autocontenção e correção de rota. Ou se resgata o Supremo, ou se preservam vaidades. As duas coisas não cabem no mesmo plenário.